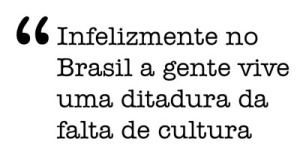Quando Sublime cancelou as apresentações que fariam no Brasil, uma dúvida permaneceu entre os maringaenses empolgados para participar do Long Life Music Festival, que acontece neste sábado em Maringá: quem os substituiria? Não tardou para anunciarem que a banda Caixa Postal Mil e 22 retornaria à Maringá para mais um show – o último foi na Expoingá de 2007. Talvez você reconheça mais facilmente o nome pelo sonoro CPM 22. A estrada do grupo paulista atualmente formado por Badauí (vocal), Ricardo di Roberto, o Japinha (bateria), Luciano Garcia (guitarra) e Heitor Gomes (baixo) começou em meados de 1990 e permanece até hoje, agora com um novo CD, trabalhando com uma gravadora independente e a vontade de fazer a música acontecer nos palcos de todo o Brasil.
Fernando Estefano Badauí, 36, atende já pedindo para esperar por um minuto. Está acertando inúmeras atividades pendentes, entre elas, a vinda à Maringá – a banda sai de São Paulo na sexta-feira à noite para por os pés na terra vermelha logo no sábado de manhã. “Fomos avisados em cima da hora, mas não pensamos duas vezes para aceitar. Fizemos shows memoráveis em Maringá”, conta o vocalista. De cara nova, mas mantendo a identidade musical mesclando em várias faixas do novo CD o ska com punk rock, Badauí fala da atual fase do CPM 22, da banda que tem paralelamente às atividades, a Medellin, e da rotina que tem e espera com o novo disco, sétimo da carreira do grupo, o “Depois de um longo inverno”.
Vocês começaram em um universo mais underground e hoje vemos uma maturidade maior na banda. Musicalmente, o que diferencia o CPM de 1996 para esse CPM atual?
Experiência não é só musical, temos experiência de vida, conhecemos milhões de lugares, conhecemos muita gente. Fizemos mais de mil shows de lá pra cá, participamos de programas de TV, tem a questão de responsabilidade como banda, músico, artista, pessoa. Nossa carreira vem desde 2000 sem pausas. Passamos por milhares de coisas, sete discos, gravação de DVD, shows, concorremos a prêmios [este ano a banda foi indicada ao Grammy Latino na categoria ‘Melhor Álbum de Rock’ com o álbum ‘Depois de um longo inverno’]. A mídia não está tão forte para rock hoje em dia, mas estamos aí. Temos outra sonoridade. Eu estou passando por bons momentos agora.
Quais bons momentos?
Estamos montando um bar-restaurante em São Paulo, eu e mais dois amigos. Era um sonho já antigo, vai ser um pub.
Você acaba voltando para esse cenário underground com a sua outra banda, a Medellin. Como é conciliar esses “dois mundos”?
O CPM por mais que tenha ficado popular, a gente toca em lugares que sempre tocamos. Casas menores e todo esse universo mais alternativo. O rock em si é assim, se você for de uma banda verdadeira de rock, é assim. Nunca deixei de frequentar esses lugares, estou sempre presente, não me desliguei dessa cena. Tem uma diferença grande entre os contratantes das duas bandas. O empresário que entra em contato com CPM já sabe como trabalha, e a Medellin é o pessoal mais novo, a molecada. Se você cobra um real a mais eles já reclamam. Mas tem de aprender a valorizar, não é porque é alternativo que deve ser desmerecido. Pela minha experiência, eu estou ensinando a molecada a contratar. Não adianta só ter vontade de produzir shows, tem de saber o que se está fazendo.
Apesar do novo disco, o CPM mantém a mesma sonoridade, é fácil identificar quando ouvimos. Inovar nas composições e manter a identidade da banda é um desafio que vocês enfrentam?
Até que não, a gente sempre fez as músicas naturalmente de acordo com o que a gente estava ouvindo no momento. Comecei a ouvir punk rock com 11 anos, e com 19 anos eu sabia o que eu queria seguir, as sonoridades que eu queria buscar. A gente busca fazer algo que agrade o público que ouve. Achamos uma identidade em português que soasse como as bandas que a gente gosta. Acho que quando você visualiza o que quer tirar como som, você atinge mais o seu campo. Quando se trabalha naquilo que está buscando, se consegue atingir o objetivo. Demoramos um ano para fazer esse disco, escolhemos a dedo e chegamos ao que queríamos.
Na música “Quem sou eu” do novo CD você fala que sente falta da vida mais simples. Isso é autobiográfico, você sente mesmo?
Sinto falta de quando se é moleque, que não tem tanta preocupação. Leva um pé na bunda, sofre dois dias e tá se divertindo de novo. Minha vida é simples, apesar de ser uma correria do cão. Tenho uma boa assessoria, boas pessoas que trabalham comigo. Quando falo vida mais simples é isso: dar uns pegas, tomar cerveja, não ter responsabilidade.
O Kid Vinil escreveu que o álbum “Depois de um longe inverno” pode ser a melhor produção de vocês até hoje. Por quê?
A gravação é a melhor disparada. Em relação ao conteúdo, é o que eu mais gosto. Sonoridade foi o que a gente queria mostrar mesmo. Estamos muito felizes nesse momento, fazendo shows de verdade, uma conexão muito próxima com o nosso público. Nosso público não é miudista, não ouve o que é imposto goela abaixo.
Uma das faixas fala sobre a trajetória da banda, e até leva o mesmo nome. Como foi a composição dessa letra?
Essa música é uma das que eu mais gosto. A letra é minha. Escrevi muito rápido: foi simplesmente relembrar o que a gente viveu. Consegui expor em poucos minutos o que vivemos na banda de rock profissional, os invejosos, os lugares que a gente conheceu, os fãs, a nostalgia, a vontade de estar na estrada.
Você comentou muito essa relação dos fãs. Qual o papel dos fãs para a banda hoje?
Os fãs são nosso combustível maior. Muitas vezes uma gravadora internacional empurra goela abaixo o trabalho de uma banda. Quando lidamos com um trabalho profissional bem feito, é a receita para dar certo. Você só sobrevive se tiver um público que acompanhe, sem remuneração alguma a não ser o carinho que a gente distribui. Temos um fã clube muito ativo que a gente costuma chamar de exército. O fã clube oficial tem uma organização muito boa, forte, simplesmente por amor à banda. Isso é louvável, fazemos o possível para retribuir tudo isso.
O trabalho atual foi feito por uma gravadora independente. Por que esse rompimento com a Universal Music para apostar em algo mais independente?
Porque quando a gente já tinha algo conturbado na Universal. Tivemos algumas pendências jurídicas para sair da gravadora, isso atrasou nossos planos. Apareceram outras, duas ou três tinham propostas indecentes.
Já vi músico falando que romper com uma gravadora e partir para o lado independente possibilitou uma liberdade de criação maior, mostrando realmente o que a banda é. Isso aconteceu com vocês?
Não, graças a Deus não. A antiga gravadora tem a visão dela, comercial, cinco discos que a gente fez com eles e sempre foi com muita luta, discussão, discordância. O trabalho foi bem feito, mas foi desgastante, isso é normal. Algumas coisas a gente concordava, e quando passamos a discordar mais que concordar decidimos romper. Mesmo que a gente questione a sonoridade de alguns discos, o que é normal na vida de qualquer banda mundialmente falando, não teve nada que tirasse nossa liberdade de expressão, compor e fazer o som que a gente queria.
Depois desse tempo na estrada, as influências musicais continuam as mesmas, Rancid, Ramones, Pennywise. Como foi o desenvolvimento do novo CD?
Estávamos desgastados emocionalmente entre nós, não que a gente discutisse, mas porque estávamos direto na estrada. Separei da minha mulher, comecei a sair direto na noite de São Paulo, encher a cara, aquela coisa boêmia. Nesse disco a gente traz a revolta, as pessoas que convivemos. Eu adoro esse disco, mas é mais sisudo, cinza mesmo. Sempre quisemos misturar ska com punk rock. Começamos a conversar no final de 2010 e falamos: pô, vamos sair de férias e fazer um CD bem pra cima. A foto do disco reflete isso, esse clima de praia, Caribe, essa alegria. O disco é mais surf, feliz.
Essa revolta, falando sobre pessoas que conviveram com vocês reflete na letra de “Cavaleiro Metal”, que é do Luciano Garcia… Em quem vocês se inspiraram para fazer essa música?
Prefiro não dizer. Têm umas três músicas nesse CD que passa uma mensagem assim. É um recado para as pessoas que quiseram puxar o nosso tapete, não compensa dizer quem são.
O CPM entrou na programação bem perto do festival. Conhecer a cidade favoreceu na hora de aceitar vir pra cá mesmo em cima da hora?
A gente fez shows memoráveis aí [em 2003 e 2007]. Vamos chegar metendo o pé na porta. No bom sentido. Na hora que ligaram e falaram que era de Maringá a gente aceitou. Resolvemos ir.