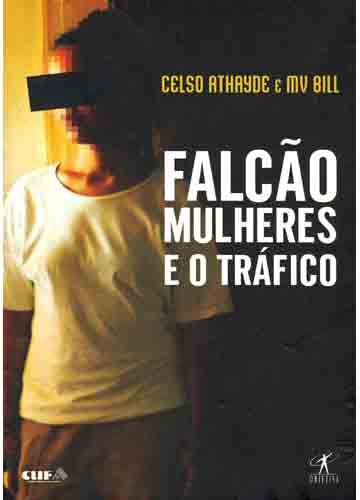Reportagem especial sobre o tráfico de drogas em Maringá
No último bimestre da faculdade de Jornalismo, cada grupo na sala de aula deveria apresentar uma revista produzida pelos alunos, desde a defesa da logomarca até diagramação das páginas e textos publicados (alô Emerson Andujar! Saudades das tuas aulas, professor!). Foi assim que a Enfoca nasceu, uma revista cujo propósito era abordar os bastidores do jornalismo regional com foco no público-alvo, que seriam os estudantes de comunicação e recém-formados. Dessa forma, entrevistei na ocasião, juntamente com meu colega de grupo Johnny Katayama, o Editor de Fotografia do jornal O Diário, João Paulo Santos. Aproveitando que hoje é o Dia do Fotógrafo, publico aqui o resultado desse bate-papo. 🙂
–
João Paulo Santos, 32, descobriu-se como fotógrafo durante a graduação, que começou em 2002. Após dois anos cursando Jornalismo no Cesumar (Centro Universitário de Maringá), trocou o curso por Publicidade e Propaganda, o que lhe rendeu experiências adicionais no campo da fotografia de estúdio e de moda. Mas o que o encantou mesmo foi o fotojornalismo, área que trabalha desde 2007. “Meu primeiro filme saiu todo escuro, tremido. Na hora pensei: ‘eu sou melhor que isso’, e passei a fotografar todo o fim de semana”, revela. Declaradamente tímido, Santos preferiu ficar atrás das lentes, transformando os acontecimentos maringaenses em registros, quem sabe, para a eternidade. Hoje o fotojornalista é Editor de Fotografia do jornal O Diário do Norte do Paraná. A conversa era para durar, no máximo, dez minutos. Que se se transfiguraram em uma hora de muitas descobertas, que você, leitor, poderá conferir nos fragmentos da entrevista abaixo.
O início
“Estudei dois anos de Jornalismo em 2002 e acabei entrando na faculdade de Publicidade e Propaganda. Na própria faculdade, quando comecei a fazer publicidade, comecei a trabalhar no estúdio de fotografia porque eu já fazia alguns trabalhos no próprio Cesumar de foto. Foi onde comecei mesmo profissionalmente a atuar direto na área de fotografia.
Durante a faculdade eu aprendi a fotografia, a professora Silvinha me incentivava. Eu comprei minha câmera, uma Nikon FX 501 [analógica], todo final de semana eu pegava ela e saía fotografando. Fotografava flor, mendigos na rua, eventos… O meu primeiro filme que fotografei mesmo foi no Demolicar, no parque de Exposições. Saiu tudo escuro, tremido. Foi aí que surgiu a ideia de ser fotógrafo, aprender as técnicas e comprar uma câmera. Eu falei “eu sou melhor que isso”, e todo fim de semana eu fotografava.
O César, que trabalhava antes do estúdio de fotografia me ensinou muita coisa. Tive aula com o Paulo Boni também. Fotografia eu achava aquela coisa poética, e foi o Boni que me ensinou o caminho do jornalismo.”
O que você aprendeu em publicidade contribuiu em algo na área jornalística?
Publicidade foi um complemento mais na questão de estúdio, fotos de moda, estilo. Passei a trabalhar com moda, e quando estava no estúdio eu também dei aula no [Colégio] Objetivo. Nisso eu ensinava e aprendia ao mesmo tempo, tinha gente que não tinha nem noção do que era pegar em uma câmera fotográfica, e isso me despertou muita coisa. Eu me corrigia, foi uma experiência muito bacana. Logo que estava terminando o curso de publicidade surgiu a oportunidade de entrar no jornal, mas na época eu tirava foto de balada, e às vezes pegava um ou dois acidentes.
Porque você trocou a faculdade de Jornalismo por Publicidade e Propaganda?
Sempre fui muito tímido. A maioria dos fotógrafos não gosta de aparecer. Aquilo foi me impressionando um pouco, porque tinha aula de telejornalismo, radiojornalismo, e sempre gostei dos bastidores. Na Publicidade eu vi que tinha a oportunidade de mostrar o meu trabalho sem aparecer. A Publicidade me trouxe onde estou hoje. Mas quero concluir o curso de Jornalismo, para ter uma bagagem a mais. Na questão da bagagem de fotojornalismo não ia me acrescentar muito.
Em Maringá a gente não vê tantos fotojornalistas formados em Jornalismo. Você acha que essa formação é importante para o exercício da profissão?
Acho importante porque fotografia não é só chegar e clicar. Parte teórica, estética, semiótica. É um complemento. O mais importante é você estar na rua, não adianta nada saber fotografar, chegar na rua e não ter aquela experiência. É igual jogador de futebol que eles falam que está fora de ritmo. Às vezes você não sabe se posicionar direito, acaba atrapalhando um pouco. A questão do diploma eu acho que tem que ter, eu não tenho em Jornalismo mas estou correndo atrás. Hoje você pode ter o MTB, ser credenciado na ANJ e atuar como fotojornalista, mas o diploma é algo a mais que você pode oferecer.
Quando você começou no Dflash, também cumpria esporadicamente algumas pautas de polícia. Você tinha estômago suficiente para as cenas fortes no início?
Na verdade não, desde pequeno nunca gostei de ver acidentes, não gostava nem de ir em velório. Mas com o tempo você vai criando uma espécie de sangue frio. Não que você queira fazer aquilo, mas é algo tão natural na sua profissão que acaba se tornando algo corriqueiro. Hoje chego em um lugar e penso que é o meu trabalho, vejo a cena profissionalmente. Evito bastante a questão de expor a família. Existem mil e uma formas de fazer uma foto que chame a atenção e que não denigra a família ou quem está ali. Pode ser uma foto que muita gente não goste, mas eu sei que meu caminho está certo, e quando a família pegar o jornal vai ter um choque, mas não vai sofrer tanto igual muita gente faz de mostrar a situação. Não é qualquer um que é fotógrafo. Se você souber usar a técnica, seu conhecimento, você faz uma foto que pegue um detalhe sem expor. Isso é possível.
Uma foto que causou bastante discussão foi a fotografia que estampou a capado jornal sobre a morte do [ex-secretário municipal de Fazenda de Maringá, Luiz Antônio] Paolicchi. Qual foi a tua opinião na época?
Eu não era editor na época. Creio que pela pessoa pública que ele era, acredito que aquela foto deveria ter saído, mas não no tamanho e no local onde foi publicada. Era uma foto de [página] interna. Tudo depende da hora, da situação, do que está acontecendo. Mesma coisa uma foto do Saddam Hussein: se não mostrasse, ninguém ia acreditar que era ele. Se a gente mostrasse a foto só do carro dele, ninguém ia acreditar. Maringá é uma cidade conservadora, se fosse uma cidade maior, não haveria problema algum. Mas sabendo que Maringá é uma cidade conservadora, poderia ser revisto onde a foto foi publicada.
Se você chega a um jornal onde a linha editorial permite que tenha essas fotos que chocam o leitor, mas você como profissional da fotografia não concorda, como lidar com esse embate?
Tem de ter a situação, não é qualquer foto você vai expor. A foto do Paolicchi circulou o Brasil inteiro. É chocante? É, mas é uma maneira de você mostrar o jornalismo. Recentemente a foto que ganhou o prêmio Esso da Dilma [Rousseff], muita gente falou que foi uma falta de respeito com a Presidente da República. Eu não vejo isso, em questão de segundos o fotógrafo [Wilton Jr., do Estadão] fez uma fotografia que vai ser eternizada.
O fotógrafo consegue ter essas sacadas originais com a experiência da rua ou acompanhando outros trabalhos e estudando?
Vendo o trabalho sempre ajuda, você cria uma coisa ou outra. Mas na rua você cria algo natural, já prevê a fotografia. O fotógrafo sem rua não é fotógrafo. Não considero fotojornalista quem faz fotos só de evento. Essas fotos chocantes são históricas, vai ficar marcado para o resto da vida.
Você se lembra da sua primeira pauta?
Minha primeira pauta, quando comecei, era a cobertura de jogos de bolão no Olímpico. Mas minha primeira foto importante mesmo, que me marcou, foi justamente um assassinato. A pessoa tinha acabado de sair da penitenciária, estava tomando uma cerveja e foi assassinada a sangue frio. Ela não teve reação e ficou presa na parede. Olhei aquilo e pensei: ‘o que é que eu vou fazer aqui?’ Vi a parede toda baleada, cheio de massa encefálica na parede. Eu peguei somente as marcas de tiros. Isso me marcou justamente por isso: não preciso escancarar um morto para mostrar a gravidade. Minha segunda foto importante foi do Lula, quando ele veio inaugurar a Vila Olímpica. Senti mesmo que estava na rua e tem de ter um momento certo, foi uma correria. Eu estava com fotógrafos do Brasil inteiro e acabei tendo fotos melhores que dos outros.

A primeira pauta a gente não esquece: “Não preciso escancarar um morto para mostrar a gravidade”, diz
Fotógrafo tem disso, de conferir o trabalho dos outros quando cobrem uma mesma pauta?
Fotógrafo é muito crítico. Às vezes você faz uma foto que o cara não fez, ou ele fez e você pensa que deveria ter feito. É questão de experiência, da próxima vez você corrige os errinhos, então sempre aperfeiçoa e tem novas ideias.
Quando teve a guerra no Rio, vários fotógrafos foram pra lá. Lembro de você ter comentado que queria ter feito isso também. Apesar de todos os riscos, o que essa adrenalina significa para o fotógrafo, de estar perto do fato e registrar historicamente essas situações?
Eu tenho um sonho de cobrir uma guerra. São detalhes que você marca a vida de milhões de pessoas. Igual esse fotógrafo do Rio Grande do Sul, que saiu na revista Fotografe Melhor, ele foi só com a roupa do corpo e o equipamento. Todo fotógrafo quer estar onde tem notícia. Se ver que o bicho está pegando no Rio de Janeiro, você quer ir. Quer ser o diferencial, mostrar o próprio trabalho, quer mostrar o que está acontecendo. O fotojornalista quer estar perto, se ele tiver de servir de escudo para a polícia, ele vai querer, porque ele quer essa foto.
Existe alguma situação em que você correu risco para ter a melhor foto?
Já. Entrei junto da polícia, invadimos a casa de um traficante. Não é o mais aconselhável, mas você está na adrenalina de fazer aquilo que ninguém tem. Você se expõe, não pensa.
Conheça mais o trabalho do fotojornalista João Paulo Santos no blog Em Fotojornalismo, clicando aqui.